 É preciso dizer que Geoff Dyer merecia um interlocutor melhor. Ou, pelo menos, mais competente. Pelo menos mais preparado, necessariamente mais erudito. Fatalmente mais inteligente. Em vez disso teve-me a mim – basicamente um idiota com um gravador emprestado (sorry, Geoff).
É preciso dizer que Geoff Dyer merecia um interlocutor melhor. Ou, pelo menos, mais competente. Pelo menos mais preparado, necessariamente mais erudito. Fatalmente mais inteligente. Em vez disso teve-me a mim – basicamente um idiota com um gravador emprestado (sorry, Geoff).
Em todo o caso, a possibilidade de entrevistar (melhor dizer, falar com) Geoff Dyer apresentou-se-me como uma oportunidade imperdível. Não que eu fosse (ou seja), confesso, um particular connaisseur da obra de Dyer (e o meu pensamento foi qualquer coisa como: primeiro falar com ele; depois pensar do que falar com ele – um pensamento que, claramente, não fruiu em si mesmo de grande reflexão (and I’m really sorry, Geoff)). Mas conhecia-o de reputação – uma reputação que decididamente encaixava na minha curiosidade. Eu tinha, de facto, algumas perguntas para lhe fazer. A questão, no entanto, e como em tudo, era a de saber se eu tinha as questões certas – uma dúvida que, convenhamos, tende a ser em si mesma já uma espécie de resposta.
A justificação para o encontro era a publicação portuguesa do seu livro Yoga para pessoas que não estão para fazer yoga (Quetzal, 2013), que rapidamente devorei. Geoff Dyer esteve, pela primeira vez, e durante alguns dias apenas, em Portugal – mais especificamente em Lisboa – para servir de júri (juntamente com o professor Luc Sante e a crítica de arte Rosa Olivares) à 9ª edição do Prémio BES Photo que acabaria por premiar, por unanimidade, o brasileiro Pedro Motta. Pelo caminho, Dyer ainda conseguiria tirar algum tempo (pouco) para passear pela capital, beber «vinho tinto» e «cerveja» – «this is what Lisbon is for», afirmar-me-ia – e, claro, promover o seu livro. O interesse pela cidade era antigo e aparentemente nascera com a descoberta, pelos seus 30 anos de idade, de Fernando Pessoa e o seu Livro do Desassossego. Mas o tempo estava contado – daí a três dias teria que estar na Florida, USA – e no seu todo demonstrar-se-ia insuficiente para viver grandes aventuras na cidade portuguesa, dignas de figurar em livro futuro.
Agora, no entanto, era ainda quinta-feira, dia 9 de Maio, e Geoff estava aqui, disponível para falar comigo. O encontro, marcado para a entrada/bar do hotel onde este se encontrava hospedado, o Hotel Eurostar das Letras, era às 16:30h – e eu seria o último dos últimos daquilo que, soube, fora uma pequena bateria de entrevistas (umas onze para ser mais ou menos exacto). No hotel seria recebido pela sua editora em Portugal, com quem acabaria por trocar dois dedos de conversa (cheguei antes da hora). Geoff tinha aproveitado a pequena pausa entre entrevistas para se recolher ao seu quarto e descansar. Mas não demorou muito até que Geoff – que é, diga-se, um homem particularmente alto e magro, ainda que extremamente bem-parecido, que descontraidamente veste camisa e ténis (e calças, naturalmente) – surgisse. Afável e sorridente, parecia relaxado e, suponho, vagamente repousado. Geoff Dyer tem 54 anos e cabelo grisalho, mas não parece alguém com mais de 40 e poucos anos. Se estivessem à procura de uma figura intimidante, não a encontrariam aqui.
«I really enjoyed it», dir-me-ia no final da nossa conversa. 35 minutos haviam passado, e Geoff parecia vagamente surpreso. Primeiro perguntar-me-ia se eu estava a escrever um romance (nop); depois o que fazia eu da minha vida, naquilo que talvez tenha sido uma maneira extremamente simpática (e é impossível de negar a mais completa simpatia e sentido de humor de Geoff) de evidenciar que claramente não podia ser isto – o fazer entrevistas. E como eu o compreendo. Como a personagem do seu livro no ensaio intitulado “Skunk”, eu sentira-me durante o tempo em que falámos «como um intelectual» que, de facto, não encontrara «nada de inteligente a dizer sobre nada». Era pouco importante. O que era importante era que eu tinha saciado a minha curiosidade. De facto, Geoff merecia mais e melhor (and I really am sorry, Geoff).
_ Tiago Apolinário Baltazar
Veio a Portugal para o Prémio BES Photo, onde fez parte do júri. O que achou da experiência?
Foi estupenda. Sabe, às vezes nestes júris de prémios, todos os júris podem ter opiniões diferentes e acaba por se discutir. Neste caso, estivemos em total concordância e tudo foi decidido com muita facilidade.
Foi a primeira vez que fez parte de um júri?
De um prémio de fotografia, sim. Ainda que já tenha feito parte de júris de prémios de documentários, contos e livros, portanto…
Já tem experiência.
Sim, já estou bastante familiarizado com o processo, mas umas vezes estamos mais de acordo do que noutras. Este foi particularmente indolor.
 E está aqui, agora, a promover o seu livro Yoga para pessoas que não estão para fazer yoga, um livro que saiu originalmente em língua inglesa em 2003. Está portanto a promover um livro 10 anos passados…
E está aqui, agora, a promover o seu livro Yoga para pessoas que não estão para fazer yoga, um livro que saiu originalmente em língua inglesa em 2003. Está portanto a promover um livro 10 anos passados…
É isso. Mas não é culpa minha. É culpa vossa. É culpa de Portugal. [Risos]
[Risos] É verdade, é verdade. Mas deve ser um pouco estranho, não?
Pode ser estranho, mas, para mim, não é assim tão pouco habitual, porque costuma haver um longo hiato na publicação dos meus livros noutros países. Por exemplo, este ano vou ao Brasil para a FLIP [Festa Literária Internacional de Paraty, que se realizará entre 3 e 7 de Julho de 2013], porque vão, finalmente, publicar o meu livro But Beautiful: A Book About Jazz que saiu em 1991 [Todo Aquele Jazz, Companhia das Letras].
Esse também ainda não saiu em Portugal, portanto…
Pois, sim. Portanto não é de todo invulgar para mim. Inicialmente, a minha carreira literária em termos internacionais foi muito desastrosa – e não foi por culpa minha. Acontece que agora as pessoas estão simplesmente a colocar-se ao corrente dela e subitamente há países a publicar 3 ou 4 livros meus num período de tempo relativamente curto – um facto que me deixa muito contente.
Nós também estamos contentes. [Risos]
Então estamos todos contentes. [Risos]
Dez anos passaram sobre este livro em particular. Ainda é capaz de o ler e relacionar-se com ele da mesma forma do que quando o escreveu?
Eu não tenho por hábito reler os meus livros. Só ocasionalmente, devido a novas edições ou quando preciso de confirmar alguma coisa. Mas passei-lhe os olhos no outro dia devido a isto [às entrevistas], e fiquei surpreendido com o sentimento de simpatia que tive para com ele. Há umas quantas coisas que mudaria, é claro. Como digo no início do livro, este lida com uma fase muito particular da minha vida; e essa é uma fase que está bastante posta para trás. Eu já não vivo essa vida. Agora vivo uma vida muito mais domesticada, por assim dizer. As viagens que faço são muito mais este género de viagens. Mas em termos do livro, ainda o acho divertido, portanto, sim, acho que ainda gosto bastante dele. Sinto-me até bastante invejoso com o tipo de vida que levava nessa altura, pareceu-me bastante divertida. [Risos]
Mas já não se reconhece naquela personagem?
Oh, reconheço, claro. Mas sinto-a muito distintamente como uma versão mais nova de mim. Quando escrevi o livro eu estava nos meus quarenta e poucos anos, penso. Agora estou a meio dos meus cinquenta. Portanto, naquela altura, eu não me sentia na meia-idade. Agora sou, obviamente, um tipo na meia-idade. Pareço-o e sinto-o. [Risos]
[Risos] Não parece assim tanto.
Sim, eu sei, coloquei um certo nível de pressão sobre si de modo a obrigá-lo a dizer isso. [Risos]
Este livro é caracterizado, de forma geral, como um livro de viagens…
Sim, sim.
… quer dizer, até ganhou o prémio W. H. Smith Best Travel Book Award em 2004. Mas ele não é propriamente o tipo de livro de viagens a que estamos habituados. O Geoff tem já uma espécie de forma “única” de escrita – o crítico James Wood disse isso – que desafia a definição de género dos livros que escreve. E este não é exactamente um livro de viagens excepto se considerarmos o facto de que está realmente a viajar e está a escrever sobre si, basicamente.
Sim, mas acerca dos lugares também. Quer dizer, há também aquela espécie de análise do porquê da antiguidade grega e romana nos exercer tanta atracção, em termos das ruínas e todas essas coisas. Existe uma espécie de consideração acerca dos lugares e as aventuras que acontecem nestes lugares. E acho que o ponto a ter em conta é o de quão estreita será a relação entre aquilo que acontece e o lugar. Isto é, será que aquilo que aconteceu em Nova Orleães poderia acontecer em Léptis Magna [ruínas romanas na costa mediterrânea da Líbia]? E penso que a resposta a isso é não. Por isso acho que existe uma verdadeira relação estreita entre aquilo que está a acontecer e o lugar. Talvez o lugar seja conducente a certo tipo de experiências e não a outras. Por isso acho que a peça acerca de Miami [“Do desespero da Arte Déco”], por exemplo, é decididamente uma resposta à experiência de estar em Miami, numa certa espécie de semi-forma de conto ficcional.
Exacto, é possível ler o livro como um conjunto de contos ficcionais…
Oh, sim, sem dúvida. Eu fico contente que o livro seja classificado como um livro de viagens. Ele tem que ser apresentado como alguma coisa. Dito isto, coloquemos a coisa nestes termos: fico muito contente que não considere que este é um livro de viagens convencional.
Sim, é um elogio.
Claro. É um afastamento da ideia de um livro de viagens, digamos. O que em certo sentido é o que os livros de viagem deviam fazer.
Concordo. Em todo o caso, acho que é uma obra que que fala mais acerca de si, como a pessoa que está lá, do que dos lugares em si.
E muitas pessoas parecem não gostar disso. «Porque é que ele se dá ao trabalho de nos contar coisas sobre ele próprio e todas essas coisas?»
Mas o livro teve boas críticas quando saiu…
É verdade, teve. Por isso esperemos que o mesmo aconteça aqui em Portugal.
Bom, eu gostei. [Risos]
Aí temos, então. [Risos]
Em que ponto é que o autor se aparta da personagem no livro? É a mesma pessoa ou…
Aquilo foram experiências por que eu passei. Experiências que são ligeiramente embelezadas e, às vezes, alteradas. Outras são melhoradas, não necessariamente para fazer delas mais agradáveis – não são melhoradas nesses sentido –, mas para fazer delas artisticamente, esteticamente, mais satisfatórias. E depois há certas tendências que eu tenho enquanto pessoa e há coisas que são exageradas. Há uma espécie de persona que surge no processo da escrita que, como tal, ganha uma espécie de vida autónoma pelo próprio acto de escrita e as peculiaridades desse mesmo processo.
Nesse sentido, como definiria a linha entre a ficção e a não-ficção?
Para mim, é uma linha muito vaga. Tão vaga que é quase indistinguível. Eu publiquei estes romances [The Colour of Memory (1989), The Search (1993), Paris Trance (1998), Jeff in Venice, Death in Varanasi (2009), com edição portuguesa: Jeff em Veneza, Morte em Varanasi, Livraria Civilização Editora, 2010] e há muita coisa neles que é directamente autobiográfica. A percentagem de coisas que é inventada na minha ficção é só ligeiramente mais elevada do que aquela que é inventada na minha não-ficção. Acho que é tudo muito mais uma questão das expectativas que os leitores trazem para uma obra de acordo com a forma como essa mesma obra lhes é apresentada. As pessoas esperam uma certa forma de experiência quando estão a ler um romance. O que quer dizer que esperam que o romance se comporte de uma certa maneira. E quando o romance não se comporta dessa maneira, isso pode ser ligeiramente desorientador. Mas ao mesmo tempo as pessoas trazem um certo nível de expectativas para particulares géneros de livros. Eu, em geral, sempre tive um apreço por livros que não se comportam de acordo com um conjunto de convenções ou expectativas. E isso, penso, pode certamente ser dito como verdade dos meus livros.
Sei que o Geoff não gosta particularmente de David Foster Wallace…
[Risos] Sim.
…mas estava a ler o seu livro e veio-me à memória o David Foster Wallace das reportagens, e o facto de ele ter sempre mantido, até um certo grau, que aquilo que ele descrevia era a realidade. Agora sabemos que nem tudo aconteceu dessa forma: ele colocava pessoas a viverem situações que não tinham vivido, fez pessoas dizer coisas que não haviam dito. O Geoff identifica-se com essa posição?
Sim, sim. E não me sinto de todo mal com isso. Neste livro as peças nunca foram apresentadas como reportagens. Nunca foram. E apesar de algumas terem aparecido em revistas ou jornais, nunca foi jornalismo, no sentido de alguém ir a um lugar para oferecer um relato fiável, uma exposição do que aconteceu. Todas as alterações que fiz à realidade externa foram só por uma espécie de razão estética, ou para conseguir uma gargalhada ou algo assim. Quer dizer, não era o caso que eu estivesse a fazer uma exposição acerca das condições dos refugiados num campo qualquer onde estivesse obrigado a ser verdadeiro. Portanto, sim, eu abordei este livro muito como se estivesse a escrever ficção, na verdade. Especialmente, porque, da mesma forma que com a ficção, nós queremos que o leitor veja aquilo que nós vemos. Em termos do processo de escrita, e das exigências técnicas da escrita, este foi idêntico à escrita da ficção.
Ao ler o livro tive a sensação de que o livro estava a gritar “vive”, que é preciso viver, é preciso ir a sítios, fazer coisas. Li algures que o Geoff não simpatiza com aquela ideia do escritor fechado a escrever. Mas também teve que o fazer – afinal é escritor, também teve que se fechar para escrever…
Bom, eu acho que sou aquele tipo de escritor que, se fosse um carro, seria um muito, muito ineficiente, no sentido em que uso muitas experiências para ter relativamente poucas frases, compreende? Sou como que um motor ineficiente, nesse sentido. Mas sim, eu fui a muitos destes sítios de modo a escrever sobre eles. Umas vezes porque estava curioso acerca deles e era uma forma de, em parte, subsidiar a minha viagem. Outras porque tive uma certa experiência que desejava preservar e colocar numa história.
A sua escrita é muito pessoal. Neste livro fala de drogas, fala de sexo – são questões muito pessoais, acho.
Quer dizer, você diz que é muito pessoal, mas é bastante básico. Não são uma espécie de prazeres desviantes – ambas estas actividades são vastamente populares por todo o mundo. [Risos]
[Risos] Sim, mas não costumam surgir escritas desta forma. Tipo: «eu fui ali, e tomei drogas e diverti-me». Não costuma ser descrito assim.
[Risos] Sim, eu sei. E normalmente as pessoas usam uma máscara de ficção. Mas eu não estava preocupado. Para mim, tudo o que interessa é a escrita. Por exemplo, eu não gosto que as pessoas vejam os meus manuscritos, não gosto que as pessoas os vejam até estar em estádio de provas. Mas essas descrições não me afectam de todo. Existe uma espécie de aposta a acontecer, na verdade, de que ao ser particularmente fiel às próprias experiências, mesmo que estejas as escrever sobre uma coisa muito peculiar ou invulgar, e se o fizeres com precisão suficiente, as hipóteses são de que as pessoas digam «oh, sim, eu sinto-me da mesma maneira», ou «sim, eu tive uma experiência semelhante a essa». Mas eu não me sinto de todo embaraçado em relação a isso. Penso que em parte porque tenho esta grande vantagem de nenhum dos meus pais – e já faleceram ambos – ter sido leitor. Portanto, não era o caso de ter a minha mãe a olhar-me por cima do ombro quando estava… [risos] porque sabia que eles não leriam nada disto de qualquer das formas.
Eu concordo com o que diz. Em certa medida, a escrita deve ser visceral. Não pode ser apenas um processo estético. Deve ter algo de verdadeiro. E isso sente-se no livro.
Sim, sim. Mas esse verdadeiro não é normalmente um verdadeiro literal. É antes uma verdade imaginativa. Lembro-me de quando o meu livro Paris Trance saiu, nos finais dos anos 90 – e ele tem montes de sexo explícito, muito mais explícito do que qualquer coisa neste livro – um dos entrevistadores na altura me ter perguntado «então mas, e teve todas estas experiências ou são apenas fantasias?» e eu respondi «geez!, eu tenho 40 anos! espero que não tenham sido apenas fantasias!» Teria levado uma vida muito protegida se fossem. Não eram apenas fantasias. [Risos]
Este livro, na forma como se apresenta, parece formar um círculo. O Geoff, enquanto personagem, começa bem, parece perder-se um pouco pelo meio e volta a reencontrar-se no fim.
É verdade. Depois da perda do “eu” há uma espécie de colapso do “eu” – que não aconteceu verdadeiramente na vida real, quero assegurar, quero enfatizar [risos] –, e depois sim, temos todo aquele momento redentor do Burning Man, do festival [“A Zona”]. Portanto, sim, está completamente certo em relação a isso. No livro as histórias podem ser lidas separadamente, todas elas são autocontidas. Mas penso que ganham em ser lidas na sua sequência.
É isso que estou a dizer, que elas formam um conjunto que nos dirige a um certo ponto.
Sim, é verdade. E eu fiquei muito contente com esse último capítulo porque ir ao Burning Man foi uma grande experiência para mim. Mas foi uma espécie de experiência catastrófica enquanto escritor. Eu sempre escrevi sobre as coisas que mais me interessavam e a coisa que mais me interessou de 1999 para diante foi o Burning Man, mas eu não podia escrever sobre ela porque me parecia estar tão para além das palavras. E então, finalmente, depois de não sei quantos anos, encontrei esta maneira de lhe fazer justiça. Mas o que importa é que ele vem no fim de toda aquela viagem, se quiser. Sim, é o destino final, o festival, na realidade.
E é neste sentido que este realmente é um livro de viagens, no sentido em que não faz só uma viagem a lugares mas o que ocorre é uma viagem em si mesmo, uma viagem no interior, em certo sentido.
É verdade, é verdade. É este encontro com o interior. A coisa interessante, espera-se, é a ligação entre a paisagem interior e a paisagem exterior e o imenso trânsito que há entre ambas. Por isso, por exemplo, na peça sobre Roma, que se chama “Declínio e Queda”, existe a paisagem interior, existe a paisagem real e depois existe toda aquela coisa cultural que está a mediar. Portanto em Roma quando, lá mais para o fim, ele diz qualquer coisa como «encontrando-me no meio das ruinas da capital compreendi que a minha vida era», isso é bastante divertido, mas, como o leitor sensível, o leitor conhecedor poder-se-á aperceber, isso é uma citação de [Edward] Gibbon, uma descrição de como ele começou a escrever o seu Decline and Fall of the Roman Empire. E depois há aquelas passagens de Freud, portanto há todo um conjunto cultural a mediar essa paisagem interior e a paisagem exterior actualmente existente.
Estava a aludir a algumas referências. O Geoff gosta muito de citações, não gosta?
Adoro citações! Sim… [Risos] Porque, mais uma vez – e agora vou contradizer aquilo que dizia –, não é como se existisse este corpo de trabalho aí fora de onde eu cito coisas. Eu fui formado – fomos todos formados – por aquilo que lemos. Por isso muitas destas pessoas que eu cito são as minhas respostas instintivas a um lugar, inseparáveis das coisas que formam a minha capacidade de responder a um lugar. E, sabe, às vezes elas adicionam uma certa ressonância a uma peça em particular.
O seu trabalho, até à data, e como já disse, desafia a definição. Diz neste livro que tem tendência a ser irrequieto, que tem de estar sempre em movimento. Acha que isso pode estar relacionado?
Sim. Acho que existe esse movimento físico de que trata o livro. E depois, na minha vida literária, tem havido muito movimento intelectual de uma coisa para outra. Tendo a ser bastante nomádico em termos da escrita. E isso deve-se ao facto de me ter interessado por várias coisas; isso surge-me com mais naturalidade do que ser um especialista exaustivo.
As pessoas normalmente escolhem um tema e levam-no à exaustão.
Sim. É uma das coisas que me deixou bastante feliz com este livro, que teve bastante sucesso em Inglaterra. Até que me reuni com o editor e ele me perguntou o que ia fazer a seguir e eu respondi que o meu livro seguinte seria uma história da fotografia [The Ongoing Moment (2005)] e eu consegui perceber a sua expressão de quem diz «oh, merda…». Mas sim, de facto não poderia ter sido mais difícil. Era uma história da fotografia e eu não aparecia de todo nela, não estava lá enquanto personagem. É um livro invulgar de história da fotografia, mas é isso que ele é. E eu gostei disso, porque foi interessante, muito mais interessante do que escrever um como “Mais Yoga”, “Mais Yoga para pessoas que não estão para se dar ao trabalho de fazer ainda mais”.
O Geoff vem de origens humildes. O seu pai era…
O meu pai era um metalúrgico e a minha mãe era, antes de mais, aquilo a que chamávamos uma senhora da cantina, servindo refeições numa preparatória onde eu andava; depois de fazer isso foi limpar os escritórios dos médicos num hospital. Portanto, eram da classe trabalhadora inglesa. Mas eu fui o beneficiário de um momento particular – eu tenho 54, nasci em 1958 – onde, depois da II Guerra Mundial, todos estes mecanismos foram colocados no lugar precisamente para beneficiar pessoas como eu. Portanto, havia esta coisa de aos 11 anos de idade se fazer um exame onde se se passasse com o primeiro nível se ia para uma escola de preparação universitária, se se passasse com outro nível se ia para… – não sei como se chama agora. Mas no terceiro nível estar-se-ia condenado a uma vida de aprendiz, na verdade. Portanto, havia ali uma incrível injustiça de, aos 11 anos, o nosso destino estar a ser decidido. Passados os meus 11 anos, fui para uma escola de preparação universitária – na verdade era uma daquelas escolas na simpática cidade onde vivíamos [Cheltenham] – onde acho que cerca de 80% dos alunos acabava por ir para a Universidade. E tinha uma forte tradição não só universitária, mas uma tradição universitária ligada a Oxford ou Cambridge. E eu fui simplesmente o beneficiário disso. Embarquei nessa escada rolante educacional de passar exames até que fui da minha escola para Oxford. E em cada estádio desse avanço, apesar de pensar que era apenas uma educação – passar exames – as oportunidades de vida expandiam-se. Depois, em Oxford, claro, começa-se a conhecer pessoas muito diferentes, pessoas que nunca tinha conhecido antes, pessoas que vinham de caminhos diferentes da vida, e então os horizontes sociais expandem-se ainda mais e a ideia daquilo que se pode vir a fazer para ganhar a vida expande-se igualmente. Eu realmente adorava literatura, tinha sido uma experiência tão transformadora…
Sim, a minha questão era de quando é que tinha descoberto a literatura?
É uma história clássica, mais uma vez. Um professor na escola, aí pelos meus 15 anos, fez-me começar a adorar ler livros a sério – levou-me ao Shakespeare. Simplesmente comecei a ler muito. Não foi exactamente uma mudança de personalidade, mas tornei-me neste tipo de pessoa que adorava ler. Apaixonei-me pela literatura e depois da Universidade senti que queria fazer algo em torno dela.
Começou logo a pensar em escrever ou…
Bem, era mais como saber logo aquilo que eu não queria fazer. Não queria apenas arranjar um emprego ou assim. Para mais, eu não gostava especialmente do meu tutor na Universidade, portanto sabia que não me queria tornar num académico. E depois tive mais uma pitada de sorte. Eu saí da Universidade num período de massivo desemprego, e portanto havia muitas poucas hipóteses de arranjar um emprego. Mas havia todo este apoio de Segurança Social disponível para um conjunto de pessoas da minha idade. E assim que saíamos da Universidade inscrevíamo-nos para receber o subsídio de desemprego. Estou sempre a citar esta linha daquele cantor, Roland Gift, dos Fine Young Cannibals, onde ele diz que o que é necessário compreender é que o subsídio de desemprego, aquele sistema de Segurança Social, suportou toda uma geração de escritores, artistas e assim. Portanto, eu estava naquela idade certa em que pela educação gratuita, e depois pelos apoios ao desemprego, desenvolvi uma boa forma de criatividade passiva, ganhando um gosto por ter muito tempo para mim. Não tirei um grau avançado, mas desenvolvi uma forma de auto-educação que continuou durante muito tempo. Bom, nunca parou, na verdade. Aconteceu apenas que, a um certo ponto da minha vida, eu já não precisava do apoio para viver – mas durante uns bons anos ele foi uma parte vital da minha vida.
Foi então enquanto estava, para todos os efeitos, no desemprego que começou a pensar em escrever um livro?
Bem, eu comecei a escrever recensões de livros. Comecei a ficar mais e mais actualizado na minha leitura, e, lendo as recensões de livros nos jornais, estava tão actualizado na minha leitura que comecei a sentir «bem, eu sei tanto quanto esta pessoa» e então comecei a escrever algumas pequenas recensões, pequenas coisas, e depois algumas recensões mais longas; depois algumas coisas que não eram recensões de livros e coisas muito maiores; depois recensões de livros muito maiores. E depois escrevi o meu primeiro livro e, gradualmente, gradualmente, tornei-me num escritor. Gradualmente é a palavra-chave.
E viu o facto a aproximar-se ou…
Não, fui simplesmente gradualmente fazendo-o. E era uma altura em que era possível. Os jornais estavam a expandir-se, e então havia cada vez mais e mais suplementos culturais e mais e mais hipóteses para escrita freelancer. Essas hipóteses estão agora a diminuir. À medida que a economia colapsa por todo o mundo, os jornais estão a ficar cada vez mais e mais finos. A vida que eu pude levar quando deixei a Universidade não está disponível para as pessoas agora porque agora elas saem da Universidade e têm que pagar empréstimos; a Segurança Social é mais rígida. É simplesmente diferente, é um mundo que desapareceu.
Se fosse o Geoff a sair agora da Universidade acha que poderia fazer aquilo que faz?
Não sei. Quer dizer, não daquela forma. Mas a questão é que, de uma maneira ou de outra, há sempre jovens escritores a emergir. Eu estou numa idade agora em que gostava de os impedir [risos]. Gostava de fechar a porta por detrás de mim e dizer «okay, mais não», mas, de uma maneira ou de outra, as pessoas arranjam uma maneira de o fazer. Sabe, quando comecei a publicar livros, não havia grande dinheiro envolvido, na verdade. E depois veio aquele momento de boom mais tarde em que todos estes tipos mais jovens começaram a receber enormes avanços. Portanto em não fui o beneficiário disso, mas fui o beneficiário de outra coisa. Agora, provavelmente, vive-se a pior situação de todas, em que não resta dinheiro nas editoras para dar às pessoas grandes avanços e toda aquela coisa de viver como eu vivi não está já disponível, portanto é difícil. Mas eu não tenho dúvidas que todos os anos vão haver novos livros fabulosos de gente nova. Não sei, eles arranjam maneira de o fazer.
Queria perguntar-lhe acerca do seu último livro, Zona: A Book About a Film About a Journey to a Room (2012), que ainda não está publicado em Portugal. O Geoff não planeou realmente escrever acerca do Stalker (1979), o filme de Andrei Tarkovsky, pois não?
Bem, eu fui contratado para escrever um livro sobre ténis. E depois estava com dificuldades nisso. E só pela diversão comecei a sumarizar o Stalker. Estava bastante miserável por me demonstrar incapaz de escrever o livro sobre o ténis e depois bastante feliz só porque estava a conseguir escrever sobre alguma coisa. E então continuei a escrever e a escrever e apercebi-me a um certo ponto «oh, há um livro aqui, será que alguém o publicará?» E, para meu grande deleite, os meus editores na América e em Inglaterra responderam da maneira correcta. [Risos]
Porque é que não fora capaz de escrever o livro acerca do ténis?
Não sei. Simplesmente não conseguia, não sei. Talvez tenha sido apenas um pouco demasiado tarde, talvez o meu pico de entusiasmo acerca do ténis já tivesse passado. Tive também uma lesão, o que me impediu de jogar ténis durante cerca de um ano, e isso foi provavelmente um factor. Penso que simplesmente perdi esse autocarro, o autocarro do ténis. Cheguei logo depois do autocarro do ténis ter partido.
E anda a escrever alguma coisa agora?
Só pequenos pedaços, não estou a escrever um livro. Mas há um livro meu que sairá no próximo ano, acerca do meu tempo num porta-aviões. Passei duas semanas no USS George Bush, e escrevi um livro curto, 60.000 palavras, acerca das minhas espantosas experiências nele. Agora que penso nisso, acho que é uma espécie de livro de viagem. [Risos]
Sim, acho que sim. E já há planos para sair em Portugal?
Não há planos ainda. A sua publicação acabou agora de ser decidida em Inglaterra, portanto vai demorar anos até sair aqui. Esperemos que não 10… [Risos]
Esperemos. [Risos]
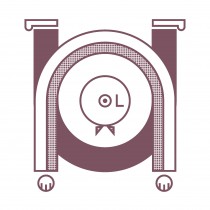
Comentários recentes